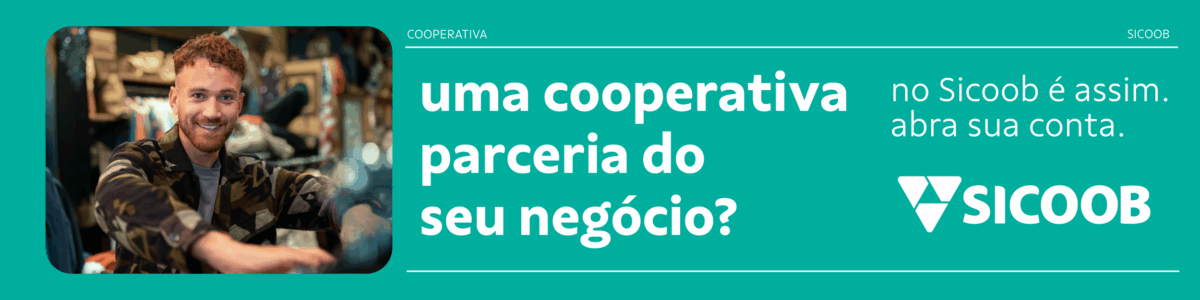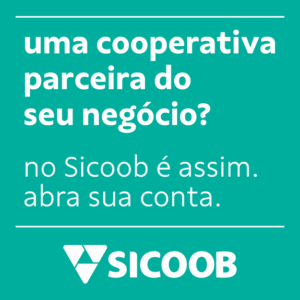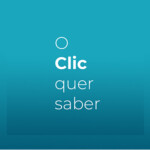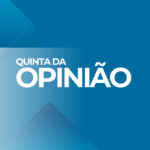Costumo dizer em minhas aulas, nas que ministro e também naquelas que sou aluno, que os livros não estão desconectados da realidade, principalmente, os clássicos da literatura mundial e brasileira.
Desta forma, gostaria de tratar hoje brevemente sobre um conto que li nesta semana de ninguém mais ninguém menos que um dos nossos maiores escritores brasileiros, Lima Barreto (1881-1922). O nome do conto é Milagre do Natal, publicado em 24 de dezembro de 1921 na Revista Careta, número 705. O período da publicação é conhecido como da Primeira República no Brasil (1889-1930).
E quando digo, caro leitor/a, que principalmente a literatura clássica não está desconectada da realidade, quero me referir especificamente aos nossos dois maiores escritores brasileiros: Machado de Assis e Lima Barreto, que expressam de maneira genial as características de seu tempo.
Como abordei recentemente sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, hoje quero falar sobre o conto Milagre do Natal de Lima Barreto. O contato e o conhecimento das obras produzidas desses autores nos permitem compreender o Brasil dos nossos dias.
Lima Barreto, quando escreve seus contos e crônicas, descortina as mazelas da Primeira República. No conto Milagre de Natal, Lima Barreto começa revelando a vida de Feliciano Campossolo Nunes, que exerce o cargo de chefe de sessão do Tesouro Nacional. Ao apresentar a personagem e a instituição na qual ele trabalha, já percebemos que se trata do período republicano no Brasil.
Campossolo, com sua mulher Dona Sebastiana e sua filha “solteira” Mariazinha, era de uma família oriunda da Bahia. Aliás, sobre isso, Dona Sebastiana se queixava muito de ter deixado o lugar onde moravam, pois, ao se mudarem para o Rio de Janeiro, para o bairro do Andaraí, dizia que ali não havia temperos para se fazer uma boa comida baiana, que ela tanto sentia falta.
Você, amigo leitor/a, deve ter estranhado a palavra “solteira” estar acima entre aspas. Não foi por acaso. Com relação à filha Mariazinha, Lima Barreto se refere a ela como a filha solteira. Antes de qualquer julgamento pela forma de o autor se referir a ela como “solteira”, é preciso entender o contexto no qual o conto foi escrito.
Não que isso vá causar espanto nos dias de hoje, pois trata-se de algo que permanece na sociedade brasileira e faz parte dos arranjos familiares. Dona Sebastiana sentia falta dos temperos baianos que usava para preparar pratos fantásticos, “auxiliada pela preta Inácia, que, com eles viera de Salvador quando o marido foi transferido”.
Nesse trecho do conto, podemos observar que era comum, mesmo após a Abolição, os costumes escravistas permanecerem na sociedade brasileira e isso, como podemos ver, era refletido na literatura da época.
Mas a filha já era uma moça de 20 anos e não sentia falta da Bahia. Já se identificava com os ares do Rio de Janeiro, que no início do século passado imitava a moda europeia.
Em alguns domingos, Campossolo convidava alguns de seus subordinados para almoçar ou jantar com eles. Mas fazia isso com acuidade seletiva, “pois não podia pôr dentro de casa um qualquer”. Aqui, mais uma vez, se observa a moral rígida das famílias, de selecionar as pessoas para o casamento das filhas.
Essa é uma moral presente nessa época inicial da Primeira República e que permanece designando, talvez com algumas poucas mudanças, os relacionamentos nos dias atuais.
Campossolo convidou desta vez dois subordinados ligados a ele diretamente no trabalho. Esses dois eram os seus mais frequentes comensais, pelos cargos importantes que exerciam no Tesouro Nacional como subordinados diretos de Campossolo. Além disso, ele tinha que casar a filha e se tornava importante trazer pessoas que exerciam cargos importantes no Estado Republicano.
Quanto a isso, num trecho do conto, o autor se dirige diretamente ao leitor/a e tece uma crítica à sociedade brasileira daquele momento: “Os senhores devem ter verificado que os pais sempre procuram casar as filhas na classe que pertencem: os negociantes com negociantes ou caixeiros; os militares com outros militares; os médicos com outros médicos e assim por diante”.
E completa dizendo que não há nada de estranho em Campossolo querer casar sua filha com um funcionário público que fosse de sua repartição e, mais especificamente, de sua seção.
É possível, então, afirmar que essa moral que aparece nas obras de Lima Barreto permanece nos dias atuais?
Ademais, não tenho a pretensão de abordar todo o conto, pois espero que você, caro leitor/a, o leia. Um grande abraço e até meu próximo texto.