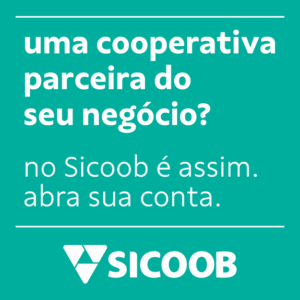Desde a Colônia, o Brasil nasceu sob uma lógica de subserviência. Não apenas econômica, mas cultural e política. A elite que comandava o poder no período colonial foi a mesma que atravessou o Império, que se reorganizou na República e que, ainda hoje, ocupa os principais espaços de decisão. Basta observar a genealogia do poder: sobrenomes se repetem, famílias se alternam, redes se preservam. O Estado muda de forma, mas o comando raramente muda de mãos.
Ao contrário do que ocorreu em países que passaram por rupturas históricas relevantes — como a Revolução Francesa ou o fortalecimento da burguesia inglesa e norte-americana — o Brasil nunca promoveu uma transformação estrutural de seu sistema de poder. Aqui, não houve uma emergência consistente de forças sociais capazes de romper o status quo. O resultado é um país onde o novo sempre nasce limitado, vigiado e, quando possível, contido.
Essa lógica se expressa de forma clara na economia. O Brasil construiu, ao longo do tempo, um ambiente de proteção às elites econômicas já estabelecidas. Barreiras de entrada elevadas, excesso de burocracia e um sistema regulatório confuso não são acidentes. São instrumentos. O capital estrangeiro é desestimulado a competir de forma plena, empresas nacionais medianas sobrevivem sem inovar e o pequeno empreendedor é sufocado antes mesmo de crescer.
A burocracia, frequentemente vendida como neutralidade técnica, cumpre um papel político claro: impedir mobilidade social e econômica. Ela não existe para organizar o país, mas para proteger quem já está no topo. Por isso, ninguém se elege defendendo mais burocracia, mas quase ninguém a combate de fato. Ela é funcional ao sistema.
O efeito disso é um país que penaliza quem tenta subir e protege quem já chegou. Empresas que não conseguem competir internacionalmente permanecem no mercado interno, sem incentivo à eficiência. Empreendedores de base são esmagados por exigências, taxas, licenças e controles que drenam energia, tempo e recursos. O resultado é um ciclo de mediocridade estrutural.
É nesse ponto que a tecnologia digital representa uma ruptura real. Pela primeira vez na história brasileira, o meio de produção começa a se descentralizar de forma concreta. Um celular, uma conexão e algum conhecimento são suficientes para gerar renda, influência e escala. Plataformas digitais, economia de aplicativos, criação de conteúdo e startups não são apenas modelos de negócio; são fissuras em um sistema historicamente concentrador.
Quando alguém perde o emprego hoje, já não está condenado à exclusão imediata, como ocorria décadas atrás. Há alternativas, ainda que precárias, para geração de renda. Serviços de transporte, entrega, produção de conteúdo e negócios digitais mudaram o jogo. Não resolveram a desigualdade, mas quebraram o monopólio da oportunidade.
O surgimento de empresas digitais que desafiam setores historicamente fechados, como o financeiro, é sintomático. A ideia de que um banco criado fora do eixo tradicional poderia alcançar milhões de clientes seria impensável há poucos anos. O mesmo vale para empresas de tecnologia nascidas fora dos grandes centros, que hoje influenciam mercados inteiros.
Nada disso elimina os problemas estruturais do Brasil. Mas expõe algo fundamental: o país não é inviável por falta de talento, criatividade ou trabalho. Ele é travado por um arranjo político e econômico que aprendeu a se perpetuar. Quando esse arranjo é desafiado — ainda que parcialmente — surgem resultados.
O debate, portanto, precisa amadurecer. Não se trata de trocar governantes como se isso fosse suficiente. Trata-se de entender quem se beneficia da complexidade, da lentidão e da confusão institucional. E, principalmente, de reconhecer que qualquer projeto sério de desenvolvimento passa por enfrentar essa lógica histórica.
Enquanto continuarmos tratando sintomas e ignorando causas, o Brasil seguirá preso a um ciclo que se repete há séculos. A tecnologia abriu uma brecha. Resta saber se o país terá coragem de ampliá-la ou se fará o que sempre fez: tentar controlá-la antes que ela mude demais.