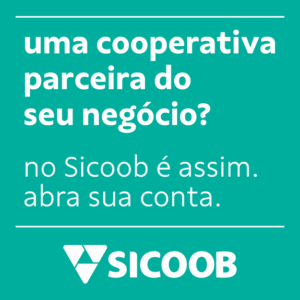É difícil acreditar que não teremos uma crise financeira. A frase de Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, não é alarmismo barato — é constatação. Os sinais estão aí, espalhados pelo globo como placas de advertência que insistimos em ignorar.
A dívida pública nos países desenvolvidos segue em níveis recordes, sem qualquer plano realista de redução. Os juros, após anos de dinheiro barato, voltaram a subir e expuseram rachaduras no sistema bancário e no chamado “shadow banking”. Some-se a isso a crescente fragmentação geopolítica, que mina a capacidade de resposta coordenada a crises, e o cenário é tudo menos estável.
Rogoff não fala no vazio. Ele já alertou, em entrevistas recentes, que o mundo vive um perigoso “regime de alta dívida” em meio a crescimento anêmico. O FMI, por sua vez, reforça: sem independência dos bancos centrais e sem disciplina fiscal, as economias caminham para a instabilidade. É como dirigir em estrada molhada sem freios de emergência.
O Brasil, nesse tabuleiro, não é exceção. Temos um sistema bancário robusto e um Banco Central que, até aqui, preserva sua autonomia. Mas a fragilidade fiscal é um calcanhar exposto. A cada aperto nos juros globais ou estresse cambial, o risco-país reage de imediato, lembrando que somos mais vulneráveis do que gostamos de admitir.
O debate que se impõe não é se teremos ou não uma crise — mas quando e em que intensidade. A história ensina que os ciclos de euforia e estresse financeiro não se extinguem; apenas mudam de roupa.
Resta aos governos recuperar credibilidade fiscal, às empresas reforçar suas defesas financeiras e aos investidores manter humildade diante da volatilidade. Fingir que o alerta é exagero é repetir o erro de 2008, quando todos preferiram acreditar que “desta vez seria diferente”.
Se há uma certeza desconfortável que Rogoff nos oferece, é esta: a próxima crise não será surpresa. Será negligência.