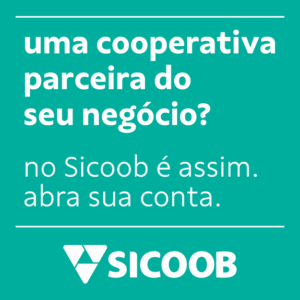Há histórias que o país prefere empurrar para o arquivo morto. O Banco do Estado de Santa Catarina foi incorporado pelo Banco do Brasil em 2008, com preço de 685 milhões de reais e a transferência de cerca de 6,943 bilhões de reais em ativos, segundo reportagens da época e registros públicos do próprio Banco do Brasil sobre a avaliação econômica usada para chegar ao valor da operação. Parecia capítulo encerrado. Só que, em 2026, o nome do banco extinto reapareceu no noticiário, não como memória histórica, mas como peça de um enredo que envolve fundos, avaliação de ativos e a liquidação do Banco Master.
O fato principal, hoje, é objetivo: em 18 de novembro de 2025, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de instituições do mesmo grupo. A partir daí, a discussão saiu do terreno técnico e entrou no terreno político, judicial e social: quem paga a conta, quem é protegido, quem fica para trás. A controvérsia ganhou escala por causa do possível acionamento do Fundo Garantidor de Créditos, com reportagens apontando que pedidos e valores travados em torno do caso podem alcançar 41 bilhões de reais, montante capaz de estressar a capacidade do próprio fundo, e que parte desse dinheiro ficou congelada enquanto o Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal analisam medidas e documentos.
Nesse ponto, entra o elo com o banco catarinense extinto. Reportagens recentes afirmam que parte relevante de “ativos podres” usados em estruturas de fundos ligados ao caso teria relação com certificados antigos de ações do Banco do Estado de Santa Catarina, tratados em operações como se tivessem grande valor econômico. Em linguagem simples: um papel pode existir, mas isso não significa que ele valha o que alguém diz que vale. Quando esse tipo de ativo entra em fundos e é registrado por cifras elevadas, ele pode inflar artificialmente o patrimônio apresentado, melhorar uma “foto” de solvência e servir de base para novas captações. Se a realidade aparece depois, o que era fotografia vira prejuízo.
O risco maior não é só financeiro; é institucional. O caso colocou em atrito funções diferentes do Estado: o Banco Central do Brasil, que executa um regime de retirada de instituição do sistema financeiro; o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza legalidade e procedimentos; e o Supremo Tribunal Federal, que pode ser chamado a arbitrar o conflito. A agência internacional de notícias Reuters registrou, em 7 de janeiro de 2026, a avaliação do presidente do Tribunal de Contas da União de que apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reverter a decisão de liquidação do Banco Central, e descreveu o debate sobre eventual bloqueio temporário de venda de ativos durante o processo. Isso importa porque a venda de ativos é, ao mesmo tempo, ferramenta para fazer caixa e ponto sensível: se for feita de forma apressada, pode destruir valor; se for travada sem critério, pode prolongar perdas e aumentar incerteza.
Há, ainda, o elemento humano: milhares de pessoas físicas compraram produtos de renda fixa atraídas por taxas elevadas, muitas vezes por aplicativos e plataformas. Esse modelo de crescimento do banco, descrito em coberturas recentes, ajuda a entender por que a discussão sobre garantia e ressarcimento virou assunto nacional. E, como sempre, quando o risco vira manchete, surge a pergunta que não quer calar: por que isso foi permitido chegar tão longe?
Oportunidades e consequências possíveis se desenham em três caminhos. No primeiro, o processo de liquidação segue com mais transparência documental e supervisão forte, sem paralisar a administração, e o país aprende: regras de avaliação de ativos e responsabilidades de gestores, administradores e auditores ficam mais rígidas, reduzindo espaço para “ativos de papel” travestidos de patrimônio. No segundo, o conflito institucional se agrava, a insegurança jurídica aumenta, a venda de ativos vira disputa e o sistema perde tempo e valor. No terceiro, o caso termina em acordos e decisões pontuais, mas sem reforma de incentivos, e a lição se repete em outro nome, em outra praça, com outro “produto campeão de vendas”.
Minha recomendação estratégica, olhando como colunista e como cidadão, é simples: o país deveria tratar esse caso como um teste de maturidade. Primeiro, exigir que a cadeia inteira de responsabilidade apareça: quem vendeu, quem comprou, quem avaliou, quem aprovou, quem auditou, quem supervisionou. Segundo, separar o que é proteção ao poupador do que é prêmio ao risco: garantia existe para evitar pânico e injustiça, não para tornar indiferente a escolha de taxas exageradas. Terceiro, colocar luz na avaliação de ativos em fundos: quando um certificado antigo ou um crédito de baixíssima recuperação entra no balanço “por milhões”, alguém está assinando embaixo, e essa assinatura precisa ter consequência.
No fim, o ponto mais desconfortável é este: quando papéis velhos voltam à vida como “riqueza” dentro de estruturas financeiras, o problema não é o papel. É o sistema de incentivos que permitiu que uma ficção contábil parecesse prosperidade. O caso Banco Master e a reentrada do Banco do Estado de Santa Catarina no noticiário servem como alerta: confiança é o ativo mais caro do sistema financeiro. E, quando ela cai, não há taxa alta que pague.