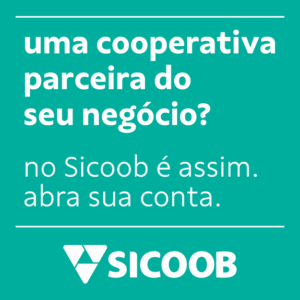A sucessão de casos de feminicídio no Oeste de Santa Catarina revela muito mais do que números trágicos: expõe uma ferida aberta que atravessa gerações, culturas e fronteiras municipais. É uma violência silenciosa que se acumula nas casas, nos relacionamentos e nas rotinas aparentemente comuns de mulheres que, minutos antes de serem atacadas, estavam apenas vivendo sua vida — indo ao trabalho, cuidando dos filhos, preparando o jantar, sonhando com um futuro.
Não é coincidência que municípios como Chapecó, Coronel Freitas, Ipuaçu e tantos outros no Oeste catarinense apareçam repetidamente nas manchetes. A região, marcada por forte tradição familiar, comunidades pequenas e relações muito próximas, convive com uma contradição profunda: ao mesmo tempo em que valoriza a união, historicamente tolerou, ou deixou de enfrentar, a violência doméstica como um conflito “interno”, “do casal”, “da família”.
Mas quando uma mulher é assassinada — ou quase morta — por alguém com quem dividiu os dias, a conta não é privada. Ela é pública, social, estrutural. Cada caso de feminicídio é a confirmação de que falhamos antes: falhou a proteção, falhou a rede de apoio, falhou a educação emocional dos homens, falhou a capacidade do poder público de identificar riscos e agir com rapidez.
Os episódios recentes mostram o padrão com clareza dolorosa: ex-companheiros inconformados com o fim do relacionamento, homens que acreditam ter o direito de controlar a vida — e o corpo — da mulher, brigas que escalam para agressões brutais, decisões tomadas no auge do ciúme, da raiva ou do sentimento de posse. No extremo, vidas destruídas. Às vezes, literalmente.
Enquanto isso, a região registra condenações duras — algumas ultrapassando trinta anos de prisão. É necessário reconhecer o avanço do sistema de justiça em punir com rigor esse tipo de crime. Mas punir depois não devolve a vida. Não estanca a dor. Não protege a próxima vítima.
O que falta é atacar a raiz. E essa raiz está fincada no machismo cotidiano, na formação dos meninos, nas relações afetivas desequilibradas, na dependência econômica, no medo permanente que tantas mulheres carregam no peito, mesmo sem contar a ninguém. Falta educação emocional nas escolas, falta acolhimento imediato em cada delegacia, falta preparo das equipes de saúde para notar sinais, falta estrutura municipal para abrigar mulheres em risco, falta coragem da sociedade para não se calar.
Também falta prioridade política. A violência contra a mulher raramente aparece nas grandes agendas eleitorais. E quando aparece, muitas vezes é tratada como slogan, não como política pública contínua. O Oeste precisa de programas de prevenção regionais, de equipes especializadas, de campanhas permanentes, de integração entre municípios — porque o agressor não respeita fronteiras.
É preciso admitir: estamos perdendo mulheres que poderiam estar vivas. Estamos permitindo que crianças cresçam sem mães. Estamos ensinando às próximas gerações que o amor pode se confundir com controle e com dor. Não pode.
Denunciar é essencial. Mas ainda mais essencial é prevenir. Feminicídio não é destino. É evitável. Sempre há sinais. Sempre há histórias começando muito antes do desfecho violento. A pergunta é: estamos preparados para escutar?
O Oeste de Santa Catarina precisa olhar para si mesmo com coragem. Não para se envergonhar, mas para transformar. Nenhuma cidade é pequena demais para enfrentar esse problema. Nenhuma vida é insignificante demais para ser protegida. A violência contra a mulher não é inevitável, nem natural. É uma escolha social. E é hora de escolher diferente.