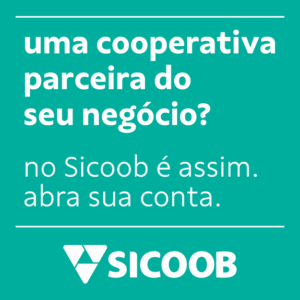Quando um banco privado implode de forma tão brusca, sempre resta a dúvida incômoda: como uma instituição pode captar bilhões de reais de fundos públicos sem que ninguém — absolutamente ninguém — percebesse o risco evidente? No caso do Banco Master, a resposta pode ser mais inquietante do que as autoridades gostariam de admitir. Os números já conhecidos apontam para algo maior do que mera imprudência financeira: o risco real de conluio, leniência ou conveniência política entre gestores estaduais e municipais e a instituição que agora está em liquidação.
O Ministério da Previdência Social identificou dezoito regimes próprios de previdência de estados e municípios com nada menos que 1,87 bilhão de reais aplicados em letras financeiras do Banco Master — títulos que não possuem proteção do Fundo Garantidor de Créditos. A regra era clara, os alertas existiam, e mesmo assim os investimentos foram feitos de forma acelerada entre 2023 e 2024. A geografia do risco é ampla: o Rioprevidência, no Rio de Janeiro, aplicou cerca de R$ 970 milhões; o fundo de previdência do Amapá, aproximadamente R$ 400 milhões; Maceió, perto de R$ 97 milhões; os municípios paulistas de São Roque e Cajamar somam, juntos, quase R$ 180 milhões; Itaguaí aparece com R$ 59,6 milhões; a AmazonPrev, no Amazonas, com R$ 50 milhões; Aparecida de Goiânia, com cerca de R$ 40 milhões; Araras, com R$ 29 milhões; Congonhas, com R$ 14 milhões; e cidades menores, como Fátima do Sul, Jateí, Angélica e Santa Rita d’Oeste, registram aplicações entre dois e sete milhões de reais, valores que, na escala municipal, representam anos de estabilidade previdenciária.
A pergunta evidente é por que tantos entes públicos, de diferentes regiões e portes, decidiram aplicar justamente nos títulos que ofereciam maior risco e nenhuma proteção. Tribunais de Contas de estados como São Paulo e Rio de Janeiro já haviam emitido alertas sobre a concentração em títulos do Banco Master. Ainda assim, os aportes não apenas continuaram como se intensificaram. Prefeituras e governos estaduais agiram como se a instituição fosse sólida e imune a risco, enquanto por trás de taxas atrativas havia um edifício financeiro frágil e insustentável. Quando tantos gestores ignoram simultaneamente alertas técnicos, não estamos mais diante de um simples erro administrativo. Estamos diante de um padrão.
Esse padrão sugere conluio. Conluio não precisa ser explícito, filmado ou confessado. Ele pode se manifestar na decisão consciente de buscar retornos elevados ignorando riscos óbvios, na relação promíscua entre gestores e agentes financeiros, na omissão deliberada diante de recomendações técnicas ou na troca implícita de favores — políticos, financeiros ou ambos. No Amapá, reportagens locais levantam possíveis ligações entre investimentos públicos e operações também envolvendo o Banco de Brasília. No Rio de Janeiro, a exposição do Rioprevidência ultrapassa qualquer parâmetro de prudência. Em Alagoas, a defesa institucional insiste na tese de que “o banco estava habilitado pelos reguladores”, como se isso fosse sinônimo de garantia absoluta.
Enquanto executivos do Banco Master tentavam deixar o país em jatos particulares, servidores públicos de estados e municípios enfrentam agora o risco de déficits atuariais, perdas de patrimônio, possíveis aportes emergenciais dos cofres públicos e impacto direto nos orçamentos locais. Para um município como São Roque, com R$ 93 milhões aplicados, isso pode representar anos de equilíbrio financeiro comprometidos. Para cidades menores, como Santa Rita d’Oeste, Angélica ou Jateí, valores aparentemente modestos podem significar rombos irreparáveis na previdência municipal.
É impossível ignorar que fundos públicos não investem sozinhos, gestores não tomam decisões dessa magnitude na inocência e bancos não captam cifras desse porte sem articulação estratégica. Diante do que já se sabe, a hipótese de que estados e municípios atuaram de forma coordenada — ou, no mínimo, permissiva — deixa de ser teoria conspiratória e passa a ser linha plausível de investigação.
O caso do Banco Master não é apenas um colapso bancário. É o retrato de uma engrenagem silenciosa em que recursos previdenciários públicos se transformam em moeda de influência, interesse e conveniência política. O povo paga. O servidor paga. O gestor responsável raramente paga. Se o país quiser evitar novos desastres, precisará ir além da liquidação da instituição. Será necessário investigar profundamente quem autorizou, por que autorizou, quem se beneficiou e quem decidiu fechar os olhos. Até que isso seja feito, o que temos é mais do que um rombo financeiro. É uma derrota moral, institucional e social — e um lembrete incômodo de como a máquina pública pode, quando quer, caminhar de mãos dadas com o risco.